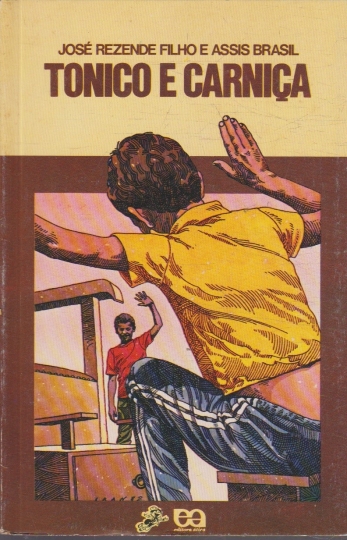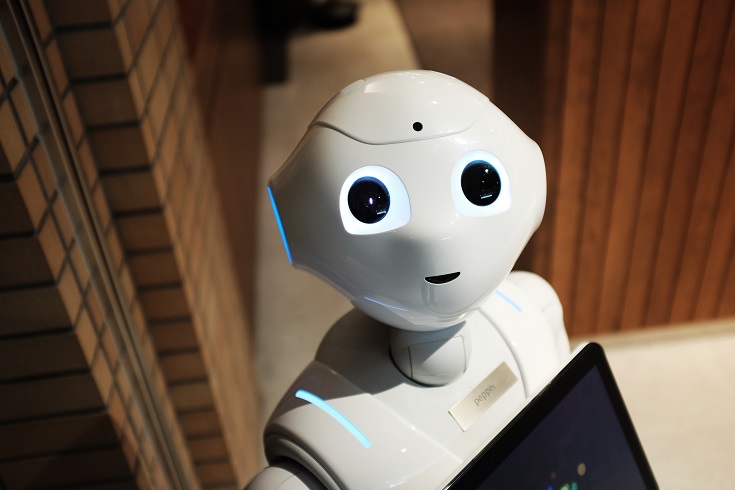Você provavelmente já ouviu falar de alguma história que envolve a participação de crianças e/ou adolescentes no tráfico de drogas, seja por meio de vivências, notícias, filmes ou livros, a figura do “aviãozinho” ou do “vapor” aparece com frequência. De fato, é uma triste realidade a utilização de mão de obra infanto-juvenil no tráfico de drogas, a criminalização da criança e do adolescente, de um modo geral, é uma discussão que tem se desenrolado ao longo de muitos anos no Brasil, e envolve convicções muito enraizadas sobre responsabilidade individual e sobre a implementação de políticas públicas no país.
Afinal, o tráfico de drogas é uma forma de Trabalho Infantil?
Apesar de constar na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a atuação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas não é considerada como trabalho infantil pela Justiça brasileira. Revisitando a história, temos que, na perspectiva higienista do Código de Menores (1979), o jovem que fugia das normas sociais era visto como desviante. A partir dessa visão estigmatizante, o jovem perdia seus direitos, sua liberdade e deveria ser punido para voltar a se “endireitar”.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, há uma atribuição de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, de assegurar os direitos de crianças e adolescentes e, no caso de atos infracionais cometidos por estes, medidas socioeducativas são aplicadas com o objetivo de “reintegrá-lo à sociedade”, em razão disso, no caso de tráfico de drogas, prevalece o aspecto de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com base no ECA, o que leva à aplicação das medidas. Contudo, as medidas socioeducativas não são plenamente cumpridas tanto por parte do Estado quanto por falta de contribuição da sociedade, e ainda, há a presença de resquícios dos discursos higienistas e punitivistas na lógica das medidas socioeducativas, o que compromete o cumprimento do objetivo destas.
O Brasil é signatário da Convenção 182 da OIT[1] que, por meio do Decreto nº 3.597/2000, enquadra o tráfico como trabalho infantil, determinando ações imediatas para sua eliminação. Assim, uma das questões que se coloca tem relação ao fluxo do atendimento junto à criança e/ou adolescente em questão, pois, uma vez enquadrado como autor de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o mesmo, em vez de entrar para um programa protetivo, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), é inserido em um sistema característico por sua ênfase punitivista, o Sistema de Medidas Socioeducativas (MSE).
De modo geral, as resoluções e os estudos apontam para uma ambiguidade jurídico-normativa em relação ao tema, o que acaba por colocar estes adolescentes sempre na “porta do crime”. Ao invés de vítimas de exploração e violação de direitos, sujeitos a situações degradantes de trabalho que deveriam estar inseridos no PETI, tornam-se autores de ato infracional, portanto, criminosos. Em termos práticos, são socialmente considerados “bandidos”, embora não o sejam perante a lei.
O PETI
O PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), é um conjunto de ações que têm o objetivo de retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O programa, além de assegurar transferência direta de renda às famílias, oferece a inclusão das crianças e dos jovens em serviços de orientação e acompanhamento. A frequência à escola também é exigida, sendo este, portanto, o fluxo ideal para a criança e/ou o adolescente envolvido com o tráfico de drogas, no qual privilegia-se uma perspectiva de superação da noção do delinquente, desviante, enfatizando, portanto, a dimensão socio-humano-afetiva do adolescente.
O PETI teve início, em 1996, como ação do Governo Federal, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), para combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de Três Lagoas (MS) e foi, progressivamente alcançando todos os estados do País. Com a implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a partir de 2005, o enfrentamento ao trabalho infantil, no âmbito da assistência social, coordenado pelo PETI, passou a ser potencializado em ações permanentes e fundamentais presentes na rede socioassistencial. Neste mesmo ano ocorreu também a integração do PETI com o Programa Bolsa Família, o que trouxe modificações significativas que racionalizaram e aprimoraram a gestão da transferência de renda evitando a fragmentação e a superposição de esforços e de recursos.
Em 2011, o PETI foi introduzido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), conforme o disposto no Art. 24-C da Lei 12.435, de 06 de julho de 2011, passando legalmente a integrar o SUAS, como estratégia de âmbito nacional que articula um conjunto de ações intersetoriais visando o enfrentamento e a erradicação do trabalho infantil no país, desenvolvida pelos entes federados com a participação da sociedade civil. A partir de 2013, considerando os avanços na estruturação do SUAS, foi iniciada a discussão sobre o Redesenho do PETI, que teve sua pactuação final em abril de 2014.
O Redesenho do PETI consiste na realização de ações estratégicas voltadas ao enfrentamento das novas configurações do trabalho infantil no Brasil e no fortalecimento do Programa em compasso com os avanços da cobertura e da qualificação da rede de proteção social do SUAS. Ele se destina a potencializar os serviços socioassistenciais existentes, bem como a articular ações com outras políticas públicas, o que favorece a criação de uma agenda intersetorial de erradicação do trabalho infantil. Assim, surgiu a sigla AEPETI (Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).
Quem é a criança e/ou o adolescente criminalizado(a)?
Outra questão que se coloca refere-se ao perfil dos sujeitos em questão, estes que são submetidos aos processos de cumprimento de medidas socioeducativas, estes que precisam se “reintegrar à sociedade”, haja vista que as medidas não são plenamente cumpridas tanto por parte do Estado quanto por falta de contribuição da sociedade.
Devemos nos atentar ao fato de que há uma tendência social a criminalizar o cidadão negro e da periferia, e, ao mesmo tempo, punir esses jovens utilizando de modo perverso e deturpado o instrumento da medida socioeducativa. A medida se torna, nesta perspectiva, um meio para utilizar as pessoas marginalizadas como “bode expiatório” para normatizar a sociedade, enquanto os cidadãos brancos de classe média / alta não são submetidos aos mesmos processos diante de crimes similares.

Turnos de 8 a 15 horas de trabalho, incluindo horário noturnos. Salários compostos por comissão em relação às mercadorias vendidas. Exposição à violência policial e ao crime. Essas são algumas das características do trabalho no tráfico a que estão expostas crianças e adolescentes, em sua maioria negros e da periferia, envolvidos com tal atividade. Ainda que não bastasse, escutamos com frequência colocações como “bandido bom é bandido morto”, ou, “quem está nessa vida é porque quer”, que nos convidam a refletir ainda mais sobre essa tal “escolha” em trabalhar no tráfico e sobre as nuances relativas à temática que envolvem convicções enraizadas sobre responsabilidade individual.
À primeira vista, é razoável pensar que ninguém opta por tais condição de trabalho, e que, quando o fazem, ou fazem porque não tiveram as mesmas oportunidades que outros ou fazem “porque querem”. Contudo, estes são discursos que buscam irrefletidamente justificar, para si e para outros, motivos que levam a tal “escolha”, contribuindo para a legitimação de ideias coloniais sobre o que é “bom” e o que é “ruim”, favorecendo a manutenção de estruturas violentas de exclusão racial e social. Apoiado em estudos psicanalíticos, com foco no exame da memória, do trauma, do racismo e pós-colonialismo, observamos, em termos gerais, um processo psíquico no qual, ao assumir estes discursos, enquanto o jovem negro da periferia se transforma em inimigo intrusivo, o “cidadão de bem” torna-se a vítima compassiva, ou seja, o opressor torna-se oprimido e o oprimido (socialmente, historicamente, etc.), o tirano. Este fato é baseado em processos nos quais partes cindidas da psique são projetadas para fora, criando o chamado ‘Outro’, sempre como antagonista do ‘eu’.
Essa cisão evoca o fato de que o sujeito que dispõe de tais discursos, de alguma forma está dividido dentro de si próprio, pois desenvolve duas atitudes em relação à realidade externa: somente uma parte do ego – a parte “boa”, acolhedora e benevolente – é vista e vivenciada como ‘self’, como ‘eu’ e o resto – a parte “má”, rejeitada e malévola – é projetada sobre o ‘Outro’ e retratada como algo externo. O ‘Outro’ torna-se então a representação mental do que o sujeito teme reconhecer sobre si mesmo, neste caso, a julgar pela presença de resquícios dos discursos higienistas e punitivistas na lógica das medidas socioeducativas, teme em se reconhecer como o violador, infrator, violento, indolente e malicioso. Portanto, antes de pensarmos em uma “escolha”, devemos nos perguntar de que ponto estamos partindo, buscando desconstruir pensamentos e mecanismos inconscientes mantenedores e legitimadores de estruturas violentas de exclusão social e racial.
A “escolha”
Na tentativa de aprofundar ainda mais nossos estudos relativos ao envolvimento de crianças e adolescentes com o tráfico de drogas, buscando elucidar processos internos e externos sobre os quais se dá a “escolha” em entrar para o “mundo do crime”, recorremos primeiramente à antropologia, apoiados também em estudos em psicanálise, e encontramos dissertações que salientam a ausência de ritos de passagem na contemporaneidade, o que pode tornar a tentativa do adolescente de simbolizar sua entrada na vida adulta um desafio, fazendo com que o mesmo fabrique seus próprios ritos pessoais e solitários, muitas vezes ao encontro da morte.
Ou ainda, partindo da premissa materialista que coloca a atividade como fundamento do desenvolvimento humano e da abordagem da Criminologia Crítica que compreende o crime como produto de gênese social, pensando as atividades e sociabilidades que podem mediar a formação humana dos adolescentes, não esquecendo da dimensão de risco e vulnerabilidade presente na vida dos mesmos, podemos pensar na necessidade sentida pelos jovens de uma projeção instantânea, ou seja, de “ser alguém” na sociedade de consumo em que vivemos.
Nesse sentido, o tráfico torna-se um dos possíveis sociais, uma “opção entre escolhas escassas” (Faria, 2009), que se apresenta para a realização de seus fins em seu contexto real de vida, em que as possibilidades de reconhecimento social são restritas.
Considerações
Diante do exposto, é imprescindível referir-se ao envolvimento de crianças e adolescentes com o tráfico de drogas como uma forma de Trabalho Infantil (uma das piores formas segundo a OIT), visto que se trata de um fenômeno multifacetado que abrange questões que vão além da prática de um ato condenável, sendo atravessado por aspectos psicossociais que envolvem convicções enraizadas sobre responsabilidade individual.
Não é à toa que cerca de 30% da população carcerária está presa por crimes relacionados a drogas, e destes, a grande maioria são jovens, pobres e negros. Haja vista que, na maior parte dos casos, as ocorrências por tráfico de drogas que resultam em prisão para essas pessoas são lavradas pela própria polícia; as pessoas são abordadas na rua; o que se tem é uma pequena quantidade de droga, e ainda sim, são enquadradas no crime tráfico de drogas. Ou seja, quem consegue ir para a delegacia, ter sua conduta reconhecida como porte para uso pessoal, por exemplo, não é o jovem negro da periferia.
No caso de crianças e adolescentes não é diferente. Portanto, compreender o envolvimento de crianças e adolescentes com o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil, considerando os aspectos sociais, psíquicos e sistemáticos que atravessam este fenômeno, representa um importante avanço para uma vida em coletividade, ampliando espaços para a busca pela justiça e pela igualdade.
Indicações
Livro: Abusado
O livro “Abusado – O dono do Morro Dona Marta”, é uma obra do escritor gaúcho Caco Barcellos, lançado em 2003, e conta a história de “Juliano VP”, nome fictício de Márcio Amaro de Oliveira, o “Marcinho VP”, famoso traficante criado na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, e sua relação precoce com o tráfico de drogas, abordando questões sociais vistas pela ótica do “Poeta” como era conhecido, e de seus amigos e familiares.
Filme: Cidade de Deus
O filme “Cidade de Deus” é uma obra dos(as) diretores(as) Fernando Meirelles e Katia Lund, lançado em 2002, com autoria de Paulo Lins e roteiro de Bráulio Mantovani. A infância perdida, retratada na obra cinematográfica, é capturada de maneira a apresentar a situação de violência experienciada nos grandes centros urbanos do Brasil. É a arte retratando a vida, no contexto da favela Cidade de Deus – um lugar que apresenta marginalização, invisibilidade, omissão, desamparo, crianças e adolescentes sem defesa.